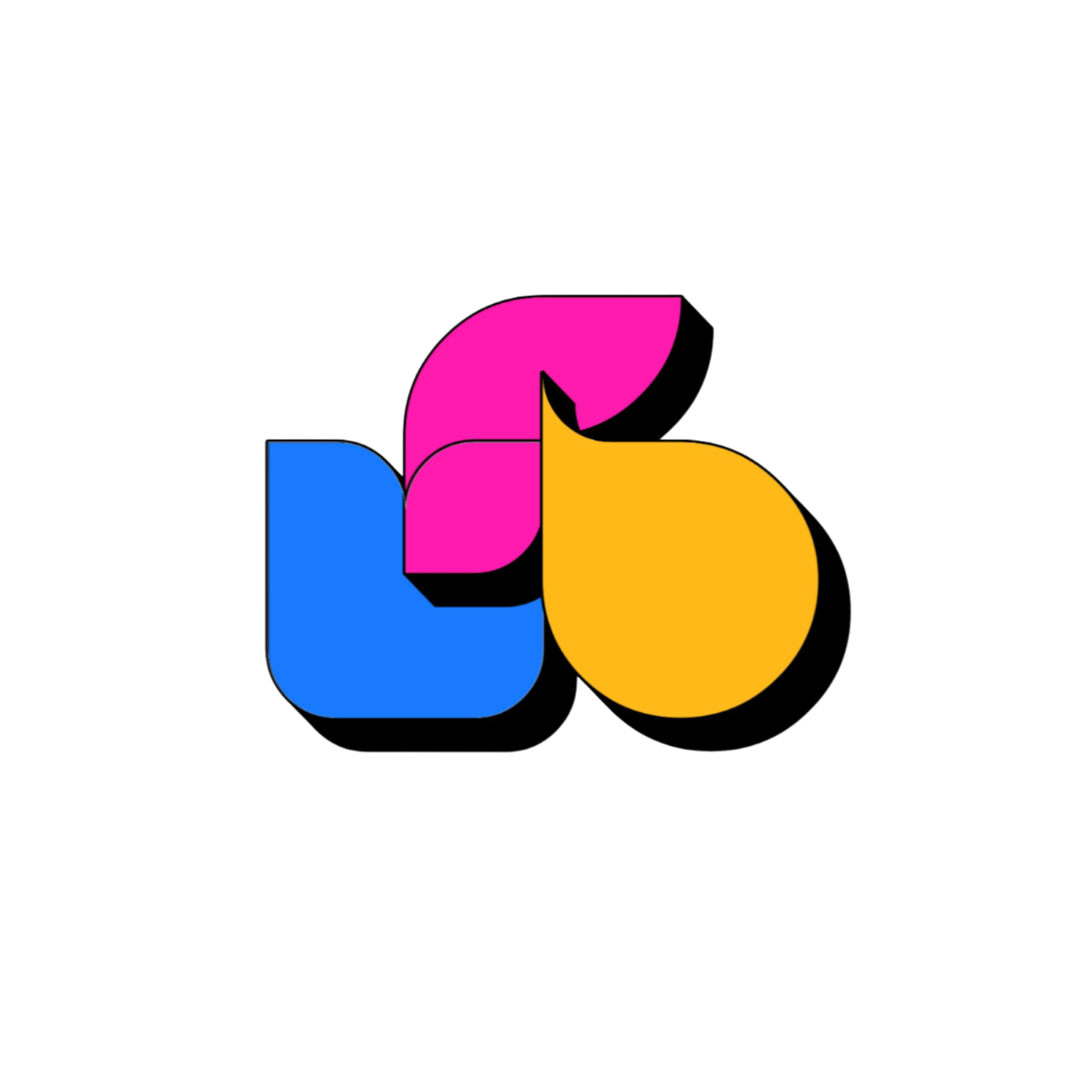O entretenimento estadunidense sempre foi mais do que mero passatempo: é uma espécie de bússola cultural, capaz de refletir e, muitas vezes, desafiar os rumos da política local e até global. Durante estes anos de Donald Trump no poder em Washington, esse papel ganhou contornos ainda mais evidentes. A cada escândalo, a cada fala atravessada ou decreto polêmico, surgia não apenas a manchete nos jornais, mas também a resposta imediata no palco, na tela ou nas ondas sonoras. O humor, a música e a cultura pop transformaram-se em trincheiras contra aquilo que muitos definiram como um desgoverno espetacularizado.
Stephen Colbert tornou-se um dos principais rostos desse fenômeno. À frente do Late Show, sua verve sarcástica e sua inteligência afiada converteram o programa em um verdadeiro diário crítico da era Trump. Seus monólogos iam além da piada: eram análises irônicas, desmontando discursos oficiais e revelando ao público uma leitura que misturava riso e indignação. Para milhões de espectadores, assistir Colbert era uma forma de sobreviver ao absurdo político com uma boa dose de sarcasmo.
Mas, ironicamente, foi justamente esse papel que colocou Colbert no olho de um furacão. Em julho de 2025, após chamar de “um grande, gordo suborno” o pagamento de milhões de dólares feito pela Paramount a Trump como parte da fusão com a Skydance, a CBS anunciou o fim do Late Show. A decisão foi justificada como estratégica: altos custos de produção, queda de audiência e uma mudança de prioridades em um mercado cada vez mais migrado para plataformas digitais. Mas bastou a notícia circular para que emergissem suspeitas: estaria Colbert sendo silenciado por interesses políticos e corporativos?
As perguntas ganharam corpo. Reportagens de veículos como Time, Reuters, The Guardian, Hollywood Reporter e Variety detalharam que o cancelamento veio no mesmo momento em que a Paramount buscava garantir a aprovação regulatória da fusão com a Skydance, negócio avaliado em US$ 8 bilhões. O senador Adam Schiff pediu explicações formais ao FCC (a agência de telecomunicações dos EUA), questionando se houve pressão política direta. Deputados como Frank Pallone Jr. e Jamie Raskin abriram inquéritos no Congresso, investigando se a saída de Colbert não teria sido um “preço a pagar” para assegurar a fusão. Até o sindicato dos roteiristas, o poderoso Writers Guild of America, entrou na briga, solicitando investigação do procurador-geral de Nova York sobre possível censura velada.
Do outro lado, executivos da CBS e da recém-formada Paramount Skydance insistiam na narrativa financeira. George Cheeks, chefe da rede, afirmou que os talk shows de fim de noite haviam se tornado insustentáveis diante da fuga de audiência para plataformas como YouTube, que rendem menos em publicidade. Jeff Shell, novo CEO da gigante de mídia, foi ainda mais enfático: “A paisagem do fim de noite tem um enorme problema”, disse, argumentando que manter Colbert era um peso financeiro difícil de justificar. A Skydance, por sua vez, negou envolvimento direto na decisão.
Ainda assim, o desconforto pairava no ar. Era difícil dissociar o fim do Late Show do momento político, especialmente porque Colbert sempre foi um crítico feroz de Trump. O timing soava mais eloquente do que qualquer justificativa contábil. Não à toa, a cultura reagiu. South Park satirizou a fusão logo na estreia da sua 27ª temporada, expondo com ironia o casamento entre poder econômico e político. No próprio palco do Late Show, a atriz Sandra Oh, convidada especial, desabafou ao vivo: “Desejo uma praga sobre a CBS e a Paramount”, refletindo o sentimento de indignação de parte da plateia. E até Jimmy Kimmel, rival e colega de profissão, ironizou os argumentos da emissora, chamando-os de “além de não-sensatos” e incentivando votos em Colbert no Emmy como um gesto de resistência simbólica.
Enquanto Colbert era silenciado, outros cronistas da comédia reforçavam a trincheira cultural. John Oliver, Trevor Noah e Seth Meyers mantiveram o tom ácido contra o trumpismo. Já South Park e The Simpsons seguiram explorando a caricatura de Trump e do ambiente que o cercava. O tom era de exagero, mas o riso quase sempre vinha acompanhado de um incômodo reflexivo — como se a comédia apenas escancarasse uma realidade já absurda.
A música também cumpriu seu papel de resistência. No rap, Eminem chegou a gravar versos que desafiavam diretamente Trump e seus apoiadores, enquanto Kendrick Lamar trouxe para seus álbuns o peso das tensões raciais e sociais intensificadas naquele período. No pop e no country alternativo, artistas levantaram bandeiras democráticas, protestaram em palcos de premiações e transformaram festivais em arenas políticas.
No entanto, talvez a reação mais imediata tenha vindo das ruas digitais. Cada escândalo ou discurso presidencial se transformava em memes, paródias e vídeos virais que circulavam em questão de minutos. Era o povo apropriando-se da narrativa, respondendo com humor àquilo que a política tentava impor como seriedade.
Trump, ao fim, não é apenas um presidente — é um personagem que alimenta o maior espetáculo tragicômico dos Estados Unidos. Um espetáculo em que a sátira virou análise política, a música se tornou protesto e a televisão se transformou em arena de disputa corporativa. O cancelamento do Late Show apenas reforça essa equação: até onde o riso pode ir quando confronta o poder — e até onde o poder pode ir para calar o riso.